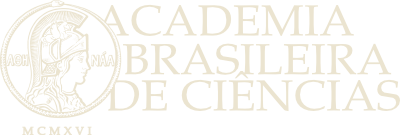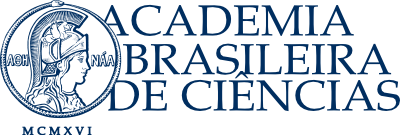Leia depoimento da Acadêmica Thaiane Moreira de Oliveira, professora efetiva da Universidade Federal Fluminense (UFF):, onde coordena o Laboratório de Investigação em Ciência, Inovação, Tecnologia e Educação (Cite-Lab):
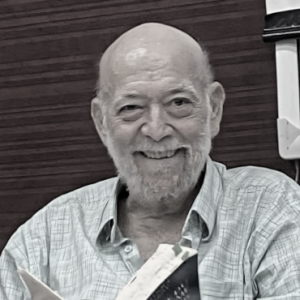
Eu poderia fazer um texto sobre a vasta trajetória profissional do Professor Roberto Kant de Lima. No entanto, linhas e mais linhas não seriam suficientes para abarcar a grandiosidade de seus feitos, sua obra e sua contribuição inigualável para as ciências sociais, o direito, a antropologia e a universidade pública brasileira. Contudo, nesta homenagem, prefiro lembrar seus ensinamentos que marcaram não apenas a minha trajetória pessoal, mas a de muitos outros alunos e colegas que tiveram o privilégio de conhecer de perto essa pessoa tão singular.
Kant era único, controverso, genial, irreverente, provocador, inquieto e, ao mesmo tempo, profundamente generoso e afetuoso. Tinha uma capacidade rara de combinar o rigor intelectual com uma humanidade imensa; transitava com igual naturalidade entre os debates mais sofisticados e as conversas mais despretensiosas do dia a dia. Era dono de uma inteligência cortante e de um senso crítico implacável, mas também de uma escuta atenta e sincera. Para muitos de nós, foi um mestre no sentido mais pleno da palavra: aquele que ensina não apenas com ideias, mas com exemplos e gestos que permanecem e permanecerão presentes no coração e na conduta profissional de muitos daqueles que tiveram a honra de conhecer Kant no seu dia a dia.
Conheci Kant quando ele era Pró-Reitor de Pesquisa da UFF e eu coordenava o Fórum de Periódicos Científicos da universidade, uma iniciativa idealizada por ele, que desde sempre reconheceu o valor estratégico do fortalecimento de uma estrutura científica nacional como condição essencial de soberania. Kant falava sobre a importância dos periódicos nacionais como espaços fundamentais para a circulação da ciência produzida no Brasil, fundamentais para tornar nossos cientistas menos dependentes de circuitos estrangeiros e para fortalecer a autonomia e a credibilidade da ciência brasileira.
No entanto, meu maior aprendizado com Kant não se restringiu à visão estratégica sobre a ciência, mas se deu, sobretudo, nas relações humanas que ele construía em torno dos espaços da ciência. Foi ali, na Pró-Reitoria de Pesquisa, sob sua gestão, que aprendi uma das lições mais valiosas: a liderança não se exerce pela força da hierarquia ou pelo autoritarismo, mas pelo
reconhecimento do bom trabalho. Kant reunia a equipe religiosamente, todas as segundas-feiras de manhã, e fazia questão de ir de um em um, perguntando o que havia sido feito na semana anterior. Era, quase, um ritual de “bom dia” semanal, mas também um acompanhamento atento de cada um dos setores da Pró-Reitoria.
Como marca única e singular de sua personalidade, não fazia rodeios: dizia o que precisava ser dito, sem meias-palavras, mas sempre fazia questão de elogiar quando o trabalho merecia ser reconhecido. Tratava com a mesma atenção o aluno de iniciação científica quanto o pesquisador mais titulado, recusando-se, sistematicamente, a encaixotar as pessoas pelos seus diplomas ou cargos. E foi nesse equilíbrio entre a crítica e o reconhecimento – uma de suas marcas mais fortes — que recebi um dos maiores aprendizados acadêmicos, testemunhando de perto, na prática, aquilo que Kant repetia à exaustão de que o argumento da autoridade nunca deveria se sobrepor à autoridade do argumento.
Desde então, me vinculei ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Comparados em Administração de Conflitos (INCT-InEAC), coordenado por ele, onde aprendi não apenas sobre os temas que atravessam as pesquisas do grupo — como as desigualdades jurídicas, a administração dos conflitos e as especificidades de uma sociedade marcada por traços
inquisitoriais —, mas, sobretudo, sobre a importância da construção coletiva do conhecimento, da troca constante entre diferentes formações e experiências, e do respeito pela pluralidade de perspectivas.
No InEAC, aprendi também uma das lições que ele fazia questão de repetir, com a ênfase e a convicção que lhe eram tão características: que não podemos — e não devemos — desistir nunca de fazer ciência no Brasil, pois é também uma atuação constante de compromisso social. Lembro, com carinho, da primeira edição da Feira de Ciências Simoni Lahud, que organizamos em plena pandemia, quando Talitha Rocha e eu, diante das inúmeras dificuldades e incertezas daquele momento, pensamos seriamente em desistir. Mas Kant, como sempre, não se fez de rogado: não nos deu sequer a opção de recuar. Com sua firmeza habitual, esbravejou, reafirmando com contundência que nosso compromisso era com a ciência, com a universidade pública, com os alunos e, sobretudo, com a sociedade.
E assim foi: organizamos não apenas aquela primeira edição da feira, mas diversas outras, impactando centenas de estudantes do ensino médio. Fizemos ciência com eles, a partir de suas próprias realidades, incentivando-os, desde cedo, a assumir o compromisso com a pesquisa e divulgação científica de seus trabalhos. Dessa experiência nasceram dezenas de produtos
midiáticos — entre podcasts e outros formatos — e artigos científicos assinados pelos próprios alunos. Foi um exemplo vívido daquilo que Kant sempre nos ensinou: a ciência se faz com rigor, mas também com paixão, compromisso e responsabilidade social.
Um dos meus primeiros contatos intelectuais com a obra de Kant foi o livro “A antropologia da academia: quando os índios somos nós”, que foi e seguirá sendo uma das maiores provocações intelectuais sobre os nossos próprios lugares institucionais e as assimetrias que atravessam o fazer acadêmico. No livro, Roberto Kant de Lima propôs uma reflexão provocadora sobre a prática antropológica dentro das instituições acadêmicas, especialmente no Brasil e Estados Unidos. Partindo de sua experiência, Kant desenvolve a metáfora central do título: assim como os antropólogos tradicionalmente estudam sociedades e culturas “outras”, também precisamos ser capazes de voltar o olhar antropológico para nós mesmos e para as estruturas institucionais nas quais estamos inseridos — especialmente as universidades e os sistemas científicos.
Logo no início da obra, Kant relatou sua resistência ao mercado editorial científico, que tende a reduzir a ciência a uma mercadoria orientada exclusivamente pelo lucro. Ao narrar as dificuldades que enfrentou para reeditar o livro alguns anos após o seu lançamento, ele explicitou com contundência seu posicionamento político e intelectual: “Continuo achando que devemos nos esforçar por encontrar caminhos próprios de reflexão, fugindo à sanha modernizadora dos que nos querem impor, como se fossem universais, modelos particulares, que são, no máximo, mais ou menos majoritários em outras culturas. Pretendo continuar criticando, explicitando e argumentando contra este ethos colonizado de nossas elites intelectuais, políticas e econômicas, seduzidas, desde sempre, pelas facilidades da cópia e do lucro aparentemente mais fácil e
imediato.”
Esta passagem sintetiza uma das teses centrais do livro: a denúncia da dependência intelectual das elites brasileiras em relação a modelos externos, frequentemente tratados como universais, mas que são produtos localizados de outras culturas e interesses. E essa crítica continuou presente em toda a sua trajetória até um dos seus últimos textos do qual tive a honra de escrever ao seu lado, junto com Edilson Márcio e José Colaço, uma reflexão crítica sobre o fenômeno do negacionismo científico, interpretando-o não como um fenômeno irracional ou simplesmente anti-científico, mas como um sintoma das contradições internas do próprio projeto moderno de ciência e racionalidade.
Embora as práticas negacionistas neguem evidências científicas consolidadas, elas se apoiam em estratégias discursivas, retóricas e até mesmo em certa instrumentalização de aspectos da linguagem científica para justificar posições políticas e ideológicas. Assim, não se trata de uma simples rejeição da ciência, mas de uma disputa pela definição do que pode ou deve ser considerado “ciência” e “verdade” no espaço público. E provoca a ideia de que esse negacionismo gerou uma retomada iluminista tardiamente, entendido como a persistência de um ideal ilustrado de racionalidade e universalismo em sociedades profundamente marcadas por desigualdades sociais, econômicas e epistêmicas. Nesse sentido, o negacionismo não é um fenômeno marginal, mas constitutivo de um modelo social que naturaliza essas desigualdades enquanto afirma o monopólio da razão científica.
E ali, mais uma vez, Kant nos conduziu a refletir sobre o papel das instituições científicas, das políticas públicas de ciência e da educação na mediação dessas tensões, no combate ao negacionismo que não deve se resumir à mera defesa da autoridade científica, mas exigir o fortalecimento do debate público, a democratização do acesso à ciência e o reconhecimento da pluralidade de saberes, sobretudo num contexto de crise da autoridade epistêmica tradicional.
Kant não era apenas um professor, um pesquisador brilhante ou uma referência incontornável. Ele foi — e continuará sendo — um mestre, desses raros, cuja marca fica muito além dos textos e das teorias: fica no modo de ser, de conviver e de ensinar, de colocar em prática suas teorias e fazer do mundo um campo de pesquisa.
Nesta homenagem, me despeço com saudade, mas também com a certeza de que tudo o que aprendi com ele seguirá comigo e com tantos outros que tiveram o privilégio de compartilhar sua presença.
Obrigada, Kant, por tantos aprendizados, dentre eles, o de viver a vida em sua plenitude e com compromisso social. Finalizo essa homenagem com seu jargão mais frequente, e que enchia – e ainda enche – nossos corações de força de vontade de continuar a fazer uma ciência humana no Brasil: “Para cima e para o alto” sempre!