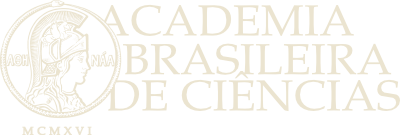Neste 19 de agosto, a presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Helena Nader, representou a instituição no evento Diálogos no Semiárido com a Pesquisa, Pós-graduação e Inovação: Interiorização, Regionalização e Correção de Assimetrias Regionais. Organizado pela Universidade Regional do Cariri (URCA), o evento discutiu a importância das instituições de ensino e pesquisa do interior a partir da experiência da paleontologia.
Repatriação de fósseis
As pesquisas com fósseis são muito proeminentes no Cariri graças à bacia sedimentar do Araripe, uma das mais importantes do mundo para descobertas sobre o período Cretáceo Superior. Entretanto, conforme lembrou o Acadêmico Alexander Kellner, houve uma época em que os pesquisadores chegavam na região, coletavam e partiam para o Rio de Janeiro. “Mas, graças ao trabalho de todos vocês que aqui estão, isso já não é mais necessário, pois temos aqui condições fantásticas para trabalhar esses fósseis. Chegou a hora do santo da casa fazer o milagre”, brincou.
Kellner é diretor do Museu Nacional, cuja reconstrução física e institucional está em curso após o trágico incêndio de 2018. Como parte do encontro, ele e o professor Alysson Pinheiro, diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nunes, de Santana do Cariri, comemoraram a repatriação de 991 fósseis. As peças foram recuperadas da França, para onde haviam sido contrabandeadas numa época em que não existiam o controle e a capacidade regional para que o Cariri manejasse sua riqueza paleontológica. Como parte de um acordo assinado entre as duas instituições, 53 fósseis foram cedidos ao Museu Nacional para que integrem seu novo acervo. “Gostaria de agradecer-lhes muito por essa doação espetacular”, disse Kellner.

A história da paleontologia no Cariri contada por um de seus atores
A paleontologia no Cariri tem uma história de sucesso na interiorização da ciência, antes mesmo que esse termo se tornasse um lugar-comum nas discussões sobre a política científica nacional. Essa história é melhor contada pelo Acadêmico Diógenes de Almeida Campos, que participou ativamente de sua construção.
Em 1967, nos primeiros anos da ditadura militar, o recém-formado geólogo buscava uma posição de trabalho. A inclinação para a paleontologia já existia, mas a falta de vagas o fez considerar trabalhos voltados à mineração. “Quando fui procurar emprego no Departamento Nacional de Produção Mineral [DNPM], no Rio de Janeiro, e casualmente citei a paleontologia, me olharam feio e perguntaram ‘você é desses, é?’”, lembrou o Acadêmico, bem-humorado. “Quer dizer, a paleontologia sempre foi o ‘patinho feio’ da geologia’”.
Foi nessa época que ele conheceu e começou a trabalhar com dois de seus precursores na área, Llewellyn Ivor Price e Friedrich Sommer. “Essa foi a minha verdadeira formação. Eu coletava, estudava e publicava sempre visando a carta geológica brasileira, que compilava todo o conhecimento obtido até então. Mas outra obrigação era a proteção dos depósitos fossilíferos”, relatou o Acadêmico.
A chapada do Araripe já estava no radar do DNPM, mas, como de costume, a proteção do registro fóssil era considerada um problema menor. “À época havia um padre aqui no Araripe, de nome Nélio Feitosa, que havia guardado alguns fósseis e tentava proteger a região. A ideia dele era fazer um museu e a polícia só faltava prender o pobre do padre”.
Aos poucos e com o apoio de figuras importantes da região, como o ex-prefeito de Santana do Cariri, Plácido Cidade Nuvens, que hoje dá nome ao museu, Diógenes passou a exercer um trabalho duplo. Ele precisava convencer não só as autoridades sobre a importância da região, mas também a própria população. “Fomos ganhando adeptos que começaram a perceber o tamanho do patrimônio científico que tínhamos aqui. Foi uma alegria quando eu vi a filha de um vendedor de fósseis falando para o pai que aquilo era errado. Nossa proposta era ter aqui um ambiente que garantisse a proteção e o estudo”, lembrou.
E assim foi feito. A institucionalização da paleontologia no Cariri foi responsável pela formação de uma nova geração de pesquisadores, da qual Alysson Pinheiro faz parte. “Temos dezenas de cientistas formados e mais algumas dezenas em formação, isso é uma política pública histórica”, reforçou Pinheiro. Kellner, por sua vez, é formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas algumas de suas mais importantes descobertas foram feitas na Bacia do Araripe. “Eu devo a minha carreira ao Araripe”, agradeceu emocionado.

Uma porta de entrada para a ciência
A paleontologia é especial porque poucas áreas têm um poder de encantamento tão grande, sobretudo nas crianças, que podem vir a se tornar novos cientistas. A paleontóloga Marina Bento Soares, professora do Museu Nacional, apresentou sua experiência na promoção da paleontologia para o ensino básico. “A paleontologia é uma porta de entrada para a curiosidade científica, ela agrega conceitos da geologia, biologia, física, química e história, é profundamente interdisciplinar. Mas é difícil para professores que não são especialistas a incorporarem em suas práticas”, avalia.
Fruto dessa inquietação é o livro A Paleontologia na Sala de Aula, que ela organizou em 2015, quando era secretária da Sociedade Brasileira de Paleontologia (SBP). Outra iniciativa foi a promoção de um curso para professores no município de Candelária, RS, outra região rica em depósitos fossilíferos. O curso revelou uma demanda ainda maior do que era esperada. Para além dos professores de ciências, vieram docentes de história, artes, teatro e outras áreas. Eles permitiram uma profusão de ideias pedagógicas que foram organizadas no site PaleoEduca, que pode ser acessado por professores de todo o Brasil para inspirar práticas que tragam a paleontologia para a sala de aula.

URCA e UFCG, uma parceria de sucesso
O fortalecimento da ciência no interior cria um ciclo virtuoso. O passo seguinte se dá quando as instituições interioranas passam a colaborar entre si, gerando um circuito de colaborações preparado para fornecer soluções altamente regionalizadas. Um desses movimentos está acontecendo agora, entre a URCA e a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Paraíba. A professora Mônica Tejo Cavalcanti, que também é diretora do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), representou a instituição.
Ela explica que um de seus objetivos no instituto é trazer as universidades e grupos de pesquisa para junto da população, para que suas tecnologias ganhem escala e gerem impacto. Alguns exemplos são a implantação de estações metereológicas conectadas em rede pelo interior; o treinamento dos agricultores em softwares de gestão agrícola e agricultura de precisão; a promoção de insumos mais sustentáveis e a criação de novos negócios rurais, voltados, inclusive, à produção de energias renováveis e de cultivos para biodiesel.
“Temos muita riqueza, mas precisamos transformá-la em desenvolvimento regional, em qualidade de vida e renda para uma população que ainda é muito pobre. Temos projetos conjuntos entre ambas as universidades para promover a bioeconomia e criar cadeias produtivas locais, que são cruciais para a sustentabilidade. As palavras de Celso Furtado continuam muito atuais: ‘não há desenvolvimento sem que o homem se desenvolva’”, afirmou Cavalcanti.
Interiorização da ciência é promoção da democracia
A presidente da ABC, Helena Nader, ficou responsável pela última fala do encontro. Se dirigindo aos muitos jovens na plateia, ela lembrou que a desigualdade histórica do Brasil é uma barreira também para o desenvolvimento científico. O exemplo internacional mostra que a ciência precisa chegar em todas as regiões, porque talentos não escolhem onde nascer. “Inteligência e criatividade não têm CEP. O talento está no sertão, está na Amazônia e está nas periferias dos grandes centros. A universidade regional tem a missão e o poder de transformar esse talento em conhecimento estruturado, em pesquisa aplicada e inovação, dialogando com as necessidades locais”, ressaltou.
Nader criticou o que enxerga como uma falta de vontade do país em corrigir essas desigualdades. “Não é uma questão apenas de justiça, mas de estratégia. Não se trata apenas de distribuir recursos, isso é fácil. É preciso criar condições para a fixação das pessoas no interior, para formar massa crítica e construir infraestrutura. É preciso uma política de Estado previsível e que valorize os cientistas”, afirmou.
Esses esforços são, inclusive, uma forma de fortalecer a democracia, pois onde há pensamento crítico há menos espaço para o negacionismo. “O que vocês conseguiram aqui não é todo lugar que consegue, é um mérito de vocês. Quando pesquisadores falam a linguagem da comunidade e se conectam à vida cotidiana, fica mais difícil para que a mentira ganhe espaço. A ciência se torna de fato um bem público reconhecido”.
No mesmo dia, os AcadÊmicos Helena Nader e Diógenes Campos foram titulados Doutor Honoris Causa pela universidade. Leia mais.
Assista ao encontro na íntegra:
Leia também:
Acadêmicos são titulados Doutor Honoris Causa na Universidade Regional do Cariri